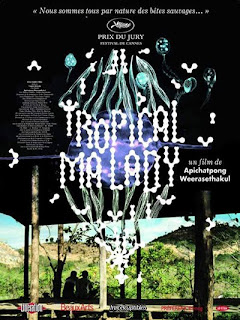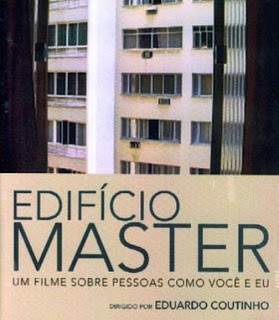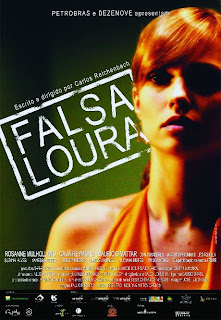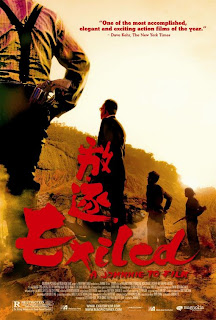Ah, o Southern Rock. Por trás de bandeiras e flâmulas exibindo o orgulho truculento de ser um confederado, estão um bom número de homens sensíveis, que gostam de agregar ao seu rock puramente macho elementos incontestáveis do blues e do country, combinados às letras objetivas que tentam exprimir os anseios e visões de homens simples. Letras que, mesmo dotadas de sensibilidade, deixam bem clara a testosterona em demasia que um homem tipicamente sulista carrega. Como diria o Lynyrd Skynyrd em “Mississipi Kid”, “I was born in Mississipi and I don’t take any stuff from you”.
O Heartless Bastards não tem nenhum troncudo assumindo os vocais e também não é uma banda sulista. O microfone fica a cargo de uma garota, Erika Wennerstrom e a banda é de Ohio, estado localizado bem acima de toda a turma que defendia a escravatura.
Eles são constantemente comparados ao já estabelecido duo de blues-rock Black Keys, e o fato de que a banda só conseguiu um contrato com a ajuda de Patrick Carney (baterista do Black Keys) também ajuda nas referências ao grupo. O fato de a nome da banda (já agressivo por si só) ter sido achado por Erika em uma trívia de boteco também ajuda na aura de “banda de bar” que permeia The Mountain, novo disco da banda de Cincinatti.

O Heartless Bastards chegou a apresentar uma de suas canções (“Out At Sea”) no programa de David Letterman, no começo de 2009. Ainda sim, The Mountain não emplacou em nenhuma lista dos grandes periódicos especializados do mundo. Pode ser um sinal de que o mundo não tem mais paciência com as bandas garageiras. Sou esperançoso e prefiro acreditar em pura e simples lerdeza, mesmo.
Produzido por Mike McCarthy, que costuma trabalhar com os indie rockers do Spoon, The Mountain veio ao mundo em 3 de fevereiro do ano passado. É o primeiro disco sem Mike Lamping no baixo e Kevin Vaughn na bateria, que tocaram no (também) ótimo debut Stairs and Elevators, que já havia sido tremendamente elogiado pela Rolling Stone matriz. A talentosa Wennerstrom conta com um timbre de voz um tanto andrógino. Não o andrógino Brian Molko, um andrógino mais Babe Ruth, digamos. Um timbre absolutamente irresistível e McCarthy parece ter sacado isso. É só ouvir “Wide Awake” e perceber como a voz da moça se sobrepõe com facilidade ao instrumental, também refinadíssimo.

A primeira música, a faixa-título, pode também levar a (hiperbólica, talvez) alcunha de melhor música anônima de 2009. O tom triste mas pungente de Erika versa sobre o quão alto o seu desejo pode ir. Até o cume de montanha, talvez? E o quão baixo ele pode despencar? Tudo isso acompanhado por uma excepcional arranjo sobreposto de guitarras, desembocando em um final instrumental estupendo. A canção seguinte, “Could Be So Happy”, segue a mesma linha melancólica de lirismo, acompanhada apenas por violões desta vez. O rock garageiro dos primeiros discos reaparece com virulência na terceira música, “Early In The Morning”, em pouco mais de dois minutos de objetividade.
O disco continua em nas faixas seguintes em sua jornada de desperança lírica e arranjos primais de rock. Sem frescura, sem teclados, sem solos. Algo como Neil Young, só que com mais Jack Daniels. “Out And Sea”, a já citada canção de trabalho que a banda executou no Late Show, termina com o verso “oh, the current is pulling me out”, demonstrando que ela não é lá uma mulher muito otimista, pelo menos como escriba. Mas tudo bem. O mestre Paulinho da Viola também não é.
A única “idiossincrassia” de The Mountain é o bandolim e o violino que aparecem em Had To Go, a mais longa e experimental do álbum, beirando os 8 minutos. Trata-se de uma balada de amarga despedida e, como acontece na faixa-título, o final da música não conta com vocais. Nem precisa. O Heartless Bastards botou na praça algo muito, muito sério. Espero que eu não tenha sido o único a notar.