
A NME já tratou de jogar na praça mais uma de suas intermináveis listas de melhores de alguma coisa no campo musical. Como não poderia deixar de ser, as últimas listas do semanário priorizam artistas sem nada de novo para acrescentar. Is This It, do Strokes, abocanhou a primeira colocação na eleição dos melhores discos da presente década. O lançamento foi concebido em 2001, período fértil de criação de pelo menos uns 144 discos que na época estavam “salvando” o rock. Passaram pela fila de possíveis salva-guardas do gênero discos do Vines, do Hives, do White Stripes e até mesmo o The Darkness teve vez. No entanto, apenas Is This It ostenta o colete salva-vidas até hoje, sendo que o resto perdeu fôlego histórico.
Antes de 2001, os rapazes do Strokes já eram jovens ricos e bem alimentados de Manhattan. Tão ricos que tratavam seus problemas com o alcoolismo em lugares insalubres como a Suíça. Julian, o vocalista, é filho de John Casablancas, notório empresário e milionário nas horas vagas. Após assinarem com a RCA, o produtor Gil Norton (Pixies, Foo Fighters, James) foi indicado para conduzir a sonoridade final do debut dos garotos. No entanto, os moleques ficaram insatisfeitos com os primeiros resultados sob a batuta de Gil, achando que tudo aquilo que gravaram estava limpo demais. A produção passou então para alguém bem menos reconhecido, Gordon Raphael, que deixou o som do modo que os Strokes queriam. Mesmo com a grana polpuda pertencente às famílias dos integrantes, o produto dessa união foi concebido em um estúdio vagabundo de porão, o Transporterraum, localizado em Manhattan. Nascia aí, então, a aura de “Garage Rock Rebirth” de Is This It.
O resultado foi um disco bacana, que merece a aura que o cerca em apenas em alguns momentos, como na ótima “Hard To Explain” e na mundialmente difundida “Last Nite”, a típica canção grudenta de rock que salva qualquer festa.
Mas, voltando a questão primordial: como você ressuscita algo que nunca morreu?
O rock de garagem por excelência foi uma alternativa eficaz adotada por músicos paupérrimos sem grana para alugarem estúdios profissionais, com bons equipamentos e produtores. Na ânsia de tocar assim mesmo, os rapazes se reuniam em garagens, porões e estúdios amadores. Um belo exemplo do popular DIY (do-it-yourself). Os anos dourados da rapazeada da garagem foram os 60s, época de nascimento de grupos seminais como os Sonics, os Seeds e o Music Machine, além daquele que provavelmente é o conjunto mais famoso, Iggy e seus Stooges. O som apresentado pelas bandas era cru e rascante, com bastante apreço pelo soul e as letras versavam sobre o que o rock sempre versou. Bebidas, motos, passeios e gatas.
Embora não tenham falecido, os grupos garageiros tornaram a ressurgir com força e quantidade apenas nos anos 80, representados em sua primeira frente pelo Fuzztones, Mummies, Thee Mighty Caesars (do sempre prolífico músico Billy Childish) e Chesterfield Kings. Os shows continuavam obscuros, as músicas mostravam pouco mais que um pedal fuzz tocado com galhardia. E quando o Strokes surgiu, não havia nada para resgatar, pois Detroit Cobras, The Dirtbombs, The (International) Noise Conspiracy e o próprio Mummies, além de muitas outras, ainda estavam queimando tudo no underground. Não é que o rock de garagem tenha falecido, a questão é que, dentre todas as citadas, somente o Strokes foi agracidado pelos braços gordos e aconchegantes do mainstream. Popularidade essa dividida no início da década com outros adeptos do rock de porão e iluminação fraca, os suecos do Hives, que já não mantêm a mesma fama de outrora.

Detroit Cobras
Zilhões de jovens no mundo todo passaram a usar os mesmos cabelos cuidadosamente sujos e o modo cuidadosamente displicente de se vestir do Strokes. De 2001 para cá, foram vendidos mais pôsteres do Julian Casablancas do que Bíblias. A influência social deles é inegável. Mas, cá entre nós: você realmente gosta tanto de Is This It, assim?

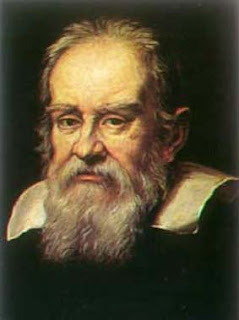



_04.jpg)
